“Nem toda situação pode ser prevista ou antecipada. Não existe check list pra tudo”
Chesley B. Sullenberger
A simulação em saúde é entendida como um conjunto de condições que busca representar, de maneira autêntica, um paciente, um procedimento ou uma situação clínica, permitindo ao estudante aprender em um ambiente seguro e controlado. Diferente do aprendizado puramente teórico ou do modelo tradicional “see one, do one, teach one”, a simulação proporciona experiências práticas estruturadas e repetíveis, garantindo que o estudante desenvolva competências de forma progressiva antes do contato direto com o paciente. Essa abordagem está alinhada ao conceito de aprendizado experiencial de Kolb, no qual o conhecimento se constrói por meio de ciclos de experiência, reflexão, conceitualização e aplicação.
Historicamente, o uso da simulação em saúde remonta a práticas muito antigas. Na China do século X, por exemplo, modelos anatômicos de bronze foram utilizados no ensino de acupuntura, permitindo ao aprendiz treinar a colocação correta das agulhas e recebendo feedback imediato. Ao longo dos séculos, bonecos de treinamento para partos, modelos anatômicos de cera e simuladores rudimentares foram desenvolvidos para o ensino de habilidades específicas. Na década de 1940, Asmund Lærdal, fundador da empresa norueguesa Lærdal, desenvolveu o Resusci-Anne em parceria com anestesistas, tornando-se um marco para o ensino sistemático da ressuscitação cardiopulmonar. Posteriormente, na década de 1960, surgiram os primeiros simuladores de pacientes de alta complexidade, como o Sim One, desenvolvido por Abrahamson e Denson. Embora pioneiro, o alto custo de produção limitou sua disseminação, e apenas na década de 1980 houve uma retomada consistente com o desenvolvimento de simuladores mais acessíveis em Stanford e na Universidade da Flórida, que abriram caminho para os equipamentos de média e alta fidelidade utilizados atualmente.
O uso da simulação ganhou força a partir do final do século XX, quando mudanças significativas na educação médica começaram a questionar o modelo tradicional de ensino. O crescimento exponencial do conhecimento médico e a necessidade de integrar teoria e prática em currículos já saturados levaram à adoção de metodologias ativas de aprendizagem, como a problematização, a aprendizagem baseada em problemas (PBL) e a simulação clínica. A simulação passou a ser considerada não apenas um recurso complementar, mas um componente central no desenvolvimento de competências cognitivas, técnicas e comportamentais. No Brasil, embora cursos de suporte avançado de vida como o ATLS e o ACLS já utilizassem simulação desde os anos 1990, sua integração curricular só se consolidou a partir dos anos 2000, com o advento do Exame Clínico Estruturado Objetivo (OSCE) e a inclusão explícita da simulação nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) de 2014.
Um marco importante para a adoção da simulação foi a publicação, pela Organização Mundial da Saúde em 2009, do conceito de segurança do paciente como prioridade global. Esse movimento expôs as fragilidades do modelo tradicional de ensino baseado na observação e prática direta em pacientes, evidenciando os riscos de eventos adversos, atrasos no atendimento e erros técnicos cometidos por aprendizes em fase inicial. Assim, a simulação tornou-se não apenas uma ferramenta educacional, mas também uma exigência ética para reduzir danos e aprimorar a qualidade do cuidado. Esse cenário impulsionou universidades e hospitais a investir na criação de centros de simulação, capacitação de instrutores e integração de cenários simulados à grade curricular.

Na Unicamp, o Centro de Simulação da FCM foi inaugurado em 2009, pela equipe da Pediatria. Atualmente, quase todas as disciplinas de graduação tem inserção na simulação, e a partir da Reforma Curricular os anos iniciais do curso também contam com disciplinas eminentemente práticas.
A área conta com uma ampla estrutura que inclui sala de imagens, arenas, sala de simulação de alta fidelidade e sala de simulação de atendimento.
A sala de simulação de alta fidelidade é composta por duas salas de simulação e uma de debriefing. Esses espaços são caracterizados como salas de emergência adulto e pediátrica, com simuladores de alta fidelidade. Incluem equipamentos de áudio e vídeo que permitem gravação e reprodução das atividades. Contam ainda com sala de controle com espelhamento unidirecional para observação dos facilitadores, sem contato direto com os estudantes.
A sala de simulação de atendimento apresenta uma estrutura semelhante a um consultório médico, nos mesmos moldes de atividade, com sala de comando, áudio e vídeo. Nessas salas são desenvolvidas as atividades de simulação voltadas às habilidades cognitivas e comportamentais, principalmente para o desenvolvimento do raciocínio clínico.
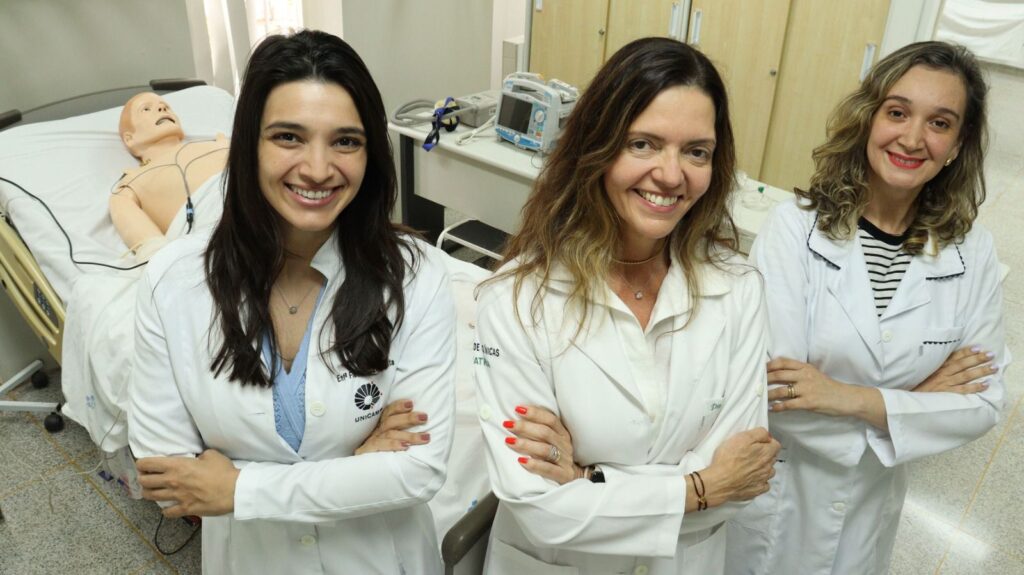
Nas arenas, as atividades realizadas são principalmente para o desenvolvimento de habilidades técnicas com simuladores de baixa e média fidelidade. A estrutura possibilita ainda a elaboração de estações práticas, de acordo com o método Objective Structured Clinical Examination (OSCE).
Além do ensino, também foram realizadas mais de trinta produções científicas entre artigos, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Capacitar alunos para participação de Projetos de Extensão também faz parte do escopo de atividades inseridas no Centro de Simulação.
No contexto contemporâneo, a simulação atende de forma privilegiada às características da geração Z, composta por estudantes nascidos após 1995, altamente conectados e acostumados a interações digitais rápidas e dinâmicas. Esses alunos valorizam metodologias que lhes permitam participar ativamente do processo de aprendizagem, receber feedback imediato e personalizar sua experiência de estudo. A simulação oferece exatamente esse tipo de ambiente: um espaço de aprendizado seguro, interativo, adaptável e centrado no estudante. Além disso, promove o engajamento emocional, essencial para a fixação do conhecimento, ao aproximar o estudante de situações reais de tomada de decisão clínica sob pressão.
A implementação da simulação como metodologia ativa exige planejamento cuidadoso. O primeiro passo é a definição clara dos objetivos de aprendizagem, que podem variar desde o treinamento de uma habilidade técnica simples, como a passagem de uma sonda nasogástrica, até a condução de cenários complexos de urgência, que envolvem múltiplos profissionais e requerem raciocínio clínico, comunicação efetiva e liderança. Uma vez estabelecido o objetivo, seleciona-se o tipo de simulação mais adequado — que pode ser de baixa, média ou alta fidelidade — e o grau de realismo necessário para alcançar os resultados esperados. Importante ressaltar que a fidelidade não se limita ao equipamento, mas inclui também aspectos do cenário, dos materiais, do comportamento dos atores e da complexidade da situação proposta. A fidelidade psicológica, ou seja, a capacidade de envolver emocionalmente o aluno e induzir respostas autênticas, é muitas vezes mais relevante que a sofisticação tecnológica.

Outro componente crucial da implementação é o debriefing, momento em que ocorre a reflexão estruturada após o cenário. Mais do que fornecer feedback, o debriefing promove a metacognição, permitindo que os estudantes analisem suas decisões, reconheçam acertos e identifiquem pontos de melhoria. Essa etapa é essencial para consolidar o aprendizado e transformá-lo em mudanças de comportamento futuras. Modelos consagrados, como o debriefing estruturado em três etapas (descrição, análise e aplicação), têm se mostrado eficazes no ensino de competências clínicas e comportamentais.
Os benefícios da simulação são numerosos. Ela proporciona um ambiente livre de riscos para o paciente, permite a repetição ilimitada de procedimentos até que a proficiência seja atingida, possibilita padronização de cenários e comparabilidade entre alunos, favorece o trabalho em equipe e a prática interprofissional, e promove a cultura de segurança ao estimular a identificação e correção de erros. No entanto, é necessário reconhecer também suas limitações. A simulação requer investimento financeiro considerável em infraestrutura e manutenção de equipamentos, bem como capacitação contínua de instrutores. Além disso, pode gerar resistência entre docentes que não tiveram contato prévio com a metodologia e que demandam tempo adicional para planejar e executar cenários de qualidade. Outro ponto a ser considerado é que, embora aumente a preparação do estudante, a simulação não substitui a vivência real com o paciente, que continua sendo insubstituível para o desenvolvimento pleno da empatia e da sensibilidade clínica.
A avaliação do impacto da simulação no aprendizado também tem sido tema de estudos, e há evidências consistentes de que ela melhora o desempenho técnico, aumenta a confiança do estudante e reduz erros em situações reais. Modelos de prática deliberada, com repetição de cenários e feedback imediato, mostraram-se eficazes na aquisição de habilidades complexas e na retenção de conhecimento a longo prazo. Além disso, a simulação permite avaliar não apenas conhecimentos teóricos, mas também competências não técnicas, como liderança, comunicação e gerenciamento de recursos em situações críticas, aspectos fundamentais para a segurança do paciente.
Portanto, a simulação representa um avanço significativo na formação médica ao alinhar-se às demandas contemporâneas de educação baseada em competências, segurança do paciente e aprendizado ativo. Sua implementação, quando bem estruturada, atende às aspirações de aprendizado da nova geração de estudantes, que buscam experiências interativas, feedback rápido e oportunidades de desenvolver autonomia. Ao permitir a prática repetida, o erro sem consequências reais e a reflexão crítica, a simulação forma profissionais mais preparados, seguros e conscientes de seu papel no cuidado à saúde.



